Radicalizar a morte é refletir sobre a opressão além-vida

Até 2016, o cemitério Greenwood em Waco, no Texas, mantinha uma cerca de separação entre o lado destinado aos brancos e aos negros. Foto de Rod Aydelotte
Quão difundido é o racismo, o machismo e o colonialismo? De acordo com o The Collective for Radical Death Studies, até a morte está sujeita a essas forças. Contando com a participação de diretores funerários, pesquisadores acadêmicos, ativistas, estudantes da área dos Estudos da Morte e "death practitioners" (algo como um profissional que trabalha com rituais funerários e de assistência à morte), o coletivo aborda a questão da morte a partir de uma perspectiva política, com o objetivo de remover os resquícios racistas, opressores e coloniais dentro do próprio campo dos Estudos da Morte, mas também nas práticas funerárias.
Leia também:
- Racismo: segregação à brasileira
- Como a comunidade LGBTQIA+ resiste diante da onda reacionária no Brasil
- Em quase 5 meses, a Covid-19 matou 100 mil brasileiros. Qual o significado dessa perda?
À primeira vista, dedicar-se ao assunto pode parecer um exagero para algumas pessoas, mas, historicamente, cemitérios já contêm em si um elemento delimitador que vai além da diferença entre os vivos e os mortos. Afinal, nem todo mundo poderia encomendar uma tumba ou uma efígie feita por artistas como Donatello ou Michelangelo — isso era apenas possível à nobreza ou ao clero à época do Renascimento.
Durante o período da Peste Negra, tornou-se impossível administrar os corpos a serem enterrados ao redor das igrejas, como era costume à época. Por isso, ossuários e catacumbas foram preenchidos de ossadas anônimas que, mais tarde, seriam usadas como matéria-prima para a decoração de capelas e igrejas como a Cripta Capuchina, em Roma, ou o Ossuário Sedlec na República Tcheca. Feitos de crânios e ossos humanos, os lustres e altares dessas igrejas ossuárias não foram feitos a partir da ossatura de nobres falecidos, mas sim de cadáveres que foram depositados em valas comuns.
Em São Paulo, a diferença entre mortos ricos e mortos pobres é evidente nas tumbas e projetos dos cemitérios. O bairro da Liberdade, antes de se tornar um local de referência à cultura dos imigrantes asiáticos, era conhecido como Largo da Forca por se tratar de um local para onde os escravizados fugitivos eram enviados para serem executados por enforcamento. Ali foi construído o Cemitério dos Aflitos, onde eram enterrados, então demarcando uma separação clara entre os papéis e raças. Apesar do fim da escravidão, em países como os Estados Unidos, a segregação continuou firme até pouco tempo atrás. Apenas em 2016, a prefeitura da cidade de Waco, no Texas, tomou a decisão de remover uma cerca que dividia o cemitério Greenwood entre a parte destinada aos negros. Essa era a prática comum no país até os anos 1950, com cerca de 90% dos cemitérios públicos adotando a restrição.
No site do coletivo, contudo, há uma divisão temática para artigos e referências bibliográficas que tratam de assuntos como gênero, a relação das mulheres com a morte, a morte queer, as diferenças culturais e étnicas, bem como as decorrências do colonialismo, capitalismo e genocídio. Dentre as recomendações estão obras como "Gore Capitalism", da mexicana Sayak Valencia e "Regarding the Pain of Others", de Susan Sontag, mas também obras mais populares como "Confissões do Crematório", de Caitlin Doughty, que ficou conhecida como uma crítica da industrialização dos processos funerários e também como uma militante da "boa morte", isto é, uma maior naturalização, aceitação e discussão acerca do tema tão reprimido em nossa sociedade.
Por isso, o coletivo Radical Death Studies busca refletir sobre o campo dos Estudos da Morte a partir de uma perspectiva marginalizada e inclusiva, tentando romper a lógica segregativa do nós e eles. Em um post introdutório, Kami Fletcher reforça que essa prática separadora é algo que foi característico e fundamental em processos de colonização europeia, no imperialismo, na escravidão, nas discriminações, opressões e privilégios que vislumbramos ainda hoje. Em suas palavras,
"Sejam eles forçados/coagidos ou então assimilados ou aculturados, os sistemas de poder e privilégio foram passados através da maneira como se morre e de como se lida com a morte. É, portanto, urgente reconhecer como o colonialismo europeu — através da escravidão, guerra e genocídio — marginalizou, trivializou e deliberadamente negou a maneira como se morre e se lida a morte nas nações, culturas e pessoas consideradas "outras". Uma vez que a regra colonial direta foi estabelecida e o genocídio se deu subsequentemente, ao longo do século 20 os cemitérios dos nativos norte-americanos não foram vistos como espaços sagrados, mas como descobertas a serem feitas por arqueólogos que assim criariam uma disciplina. Até 1990, a prática de escavação e destruição dos espaços funerários sagrados dos nativos americanos era respaldada pela descoberta histórica, de modo que expor ossadas e objetos funerários em museus dos EUA era algo normal e natural."
Mais do que respeitar o espaço físico, Fletcher ressalta a importância de se respeitar a maneira como diferentes culturas e etnias entendem o conceito de morte e de morrer. Curiosamente, ela menciona os médicos Michael Anderson e Gemma Woticky, que possuem ascendência moicana e que afirmam que "a morte não deveria ser considerada um evento médico", bem como o próprio fato de que não existe uma palavra para morte na língua nativa, o que já revela muito sobre como essa sociedade enfrentava a questão. Assim, Fletcher continua:
"A partir do fim do século 19, a maneira como os americanos (leia-se americanos brancos) lidavam com a morte era negando-a e relegando-a ao hospital. A morte se tornou desconectada da vida, de certa forma. É o exato oposto do que Anderson e Woticky argumentam. Anderson e Woticky reforçam claramente que entre os indígenas e as primeiras nações nativas, a morte não é apenas sobre o corpo, mas também do espírito, uma cura do espírito através da cerimônia."
Por fim, Fletcher resume que entre os principais objetivos do coletivo está o desejo de acabar com o eurocentrismo que tem definido os rituais funerários ao redor do mundo, bem como a desconstrução dos modos históricos com os quais o privilégio branco invadiu os trabalhos e práticas funerárias, remover o foco excessivo nos cemitérios rurais e de origem cristã e, finalmente, aumentar a conscientização da sistemática opressão que se desemboca em mortalidade e fatalidade entre grupos marginalizados e entre indivíduos não-brancos.
Em um momento tão crítico quanto o da atual pandemia, a morte tem invadido os lares brasileiros e sobrecarregado hospitais. Logo no início da crise, temas como a Escolha de Sofia se tornaram um debate público, bem como as timelines começaram a ser preenchidas com postagens em memória dos falecidos. Com uma proposta de divulgar a "morte positiva" (death positivity), o blog do The Order of Good Death fez uma série de posts (em inglês) sobre dicas de como lidar com o momento e inclusive sobre como conversar sobre morte durante essa crise. Já no caso do coletivo Radical Death, foram ainda abordados como diferentes culturas tiveram que adaptar seus ritos funerários diante do risco de contaminação em aglomerações.
No entanto, um dos conteúdos que mais me marcou no blog do Radical Death foi justamente um artigo escrito por Tamara Waraschinski, no qual ela aborda a Teoria da Gestão do Terror e como a ansiedade perante a morte é algo que, de fato, todos os humanos compartilham. Com o assassinato de George Floyd em meio à pandemia, fica gritante como para pessoas marginalizadas o tema da morte não é apenas um medo, mas uma constância — é essa virada de chave que o coletivo Radical Death busca promover.



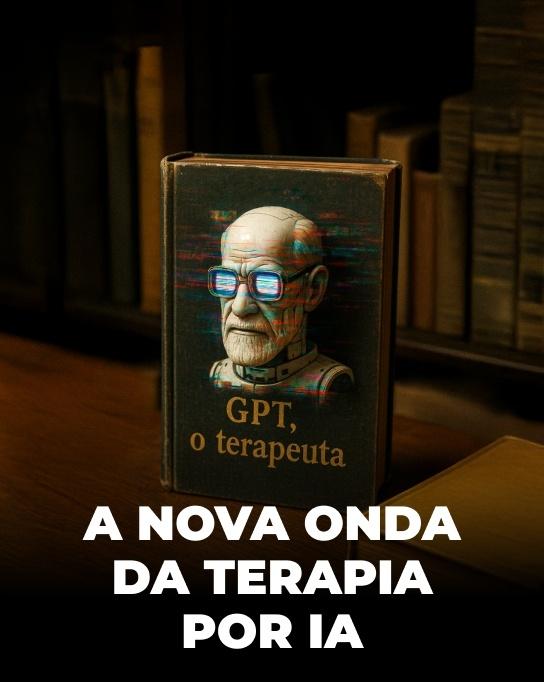






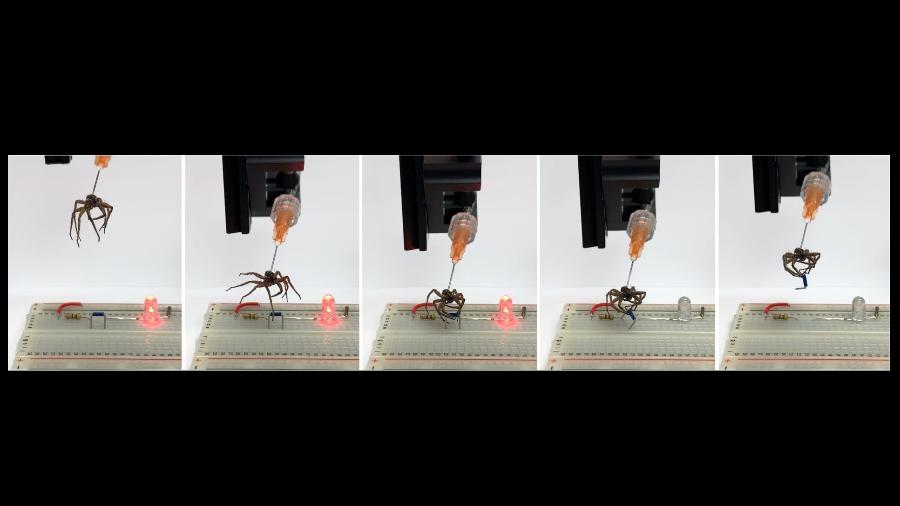

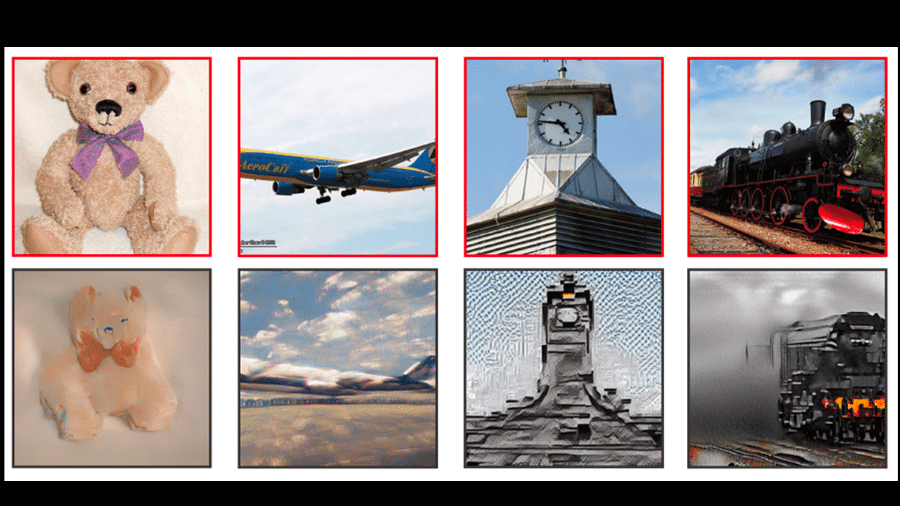


ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.