Sequenciamento genético: meros dados fazem um homem

Uma das mais poéticas cenas de "Blade Runner 2049" se dá quando K, interpretado por Ryan Gosling, está analisando um banco de dados genéticos junto de Joi, interpretada por Ana de Armas. A personagem, que é uma inteligência artificial de interface holográfica, diz ao replicante: "Meros dados fazem um homem. A e C, T e G. O alfabeto do ser. Tudo em quatro símbolos. Eu sou só dois: um e zero." O que Joi sugere com esse singelo comentário é a noção de que humanos, tanto quanto máquinas, são feitos de códigos – a diferença é que humanos são máquinas codificadas em interface orgânica, e máquinas são inorgânicas. E esta era, justamente, uma das principais premissas fundantes da cibernética, nos anos 1940.
Em "Rise of the Machines. A Cybernetic History", Thomas Rid resgata os debates levantados por Norbert Wiener junto a John von Neumann em 1943. Foi nessa época que a dupla começou a fomentar encontros interdisciplinares entre neurocientistas e engenheiros, assim dando origem à Fundação Macy e às chamadas Conferências Macy. Uma das pautas ali discutidas era justamente as similaridades entre o cérebro e os computadores a partir de uma perspectiva matemática. No entanto, após von Neumann se envolver com o projeto ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator), uma máquina massiva de 30 toneladas capaz de fazer cálculos de artilharia para o exército, o cientista percebeu que a criação era capaz de calcular ainda mais rapidamente do que poderia ter suas instruções programadas. Isso fez surgir um novo problema e uma nova proposição, que von Neumann abordou em seu artigo conceitual "First Draft of a Report on the EDVAC" de 1945, o qual passou a ser visto como o documento de fundação da computação moderna. Em outras palavras, o que von Neumann sugeriu a Norbert Wiener a seguir foi que estes deixassem de ter o cérebro humano como referência para a cibernética e passassem a ter organismos mais simples como premissa para se construir máquinas.
Mas a metáfora do "cérebro humano como um computador" permaneceu viva ao longo das décadas seguintes, ainda que alguns autores possam negá-la. De qualquer modo, a perspectiva do homem (ou do corpo humano) a partir de uma lógica maquínica tem uma origem ainda mais antiga, datada de pelo menos 400 anos a.C., quando o escultor grego Polykleitos criou Doryphoros como um cânone da proporcionalidade do corpo humano. Mais tarde, mesclando arte e ciências exatas, foi Leonardo da Vinci quem também resgatou esses estudos de proporcionalidade do corpo humano com um viés matemático a partir de seu Homem Vitruviano. Ainda que essas obras tenham a ver com questões estéticas ou mesmo de padrão de beleza, elas não deixam de ser um desdobramento do olhar do corpo humano como uma máquina moldável, quantificável. Afinal, quando entendemos que exercícios físicos, alimentação, intervenções cirúrgicas e mesmo roupas são capazes de transformar nosso corpo em um ideal "programável", também passamos a nos entender como ciborgues sob a leitura de Donna Haraway. O alerta, porém, é que essa perspectiva, se levada ao extremo, pode se transformar em um problema de saúde pública, por exemplo, a partir de transtornos de imagem corporal e transtorno alimentar (vide ortorexia).
Assim sendo, quando Manfred Clynes e Nathan S. Kline cunharam o termo "ciborgue" em 1960 ao sugerir a criação de um organismo biológico com partes mecânicas, eles acrescentaram uma nova camada de exploração espacial à discussão da cibernética que já propunha o amálgama entre máquinas e organismos para que o homem pudesse se adaptar aos ambientes extraterrestres. Como explica Rid, entre os anos 1940 e 1960, havia duas possibilidades de se enxergar essa junção entre organismos biológicos e máquinas: uma na qual um organismo possuiria partes sintéticas e outra na qual uma máquina completamente sintética seria capaz de emular capacidades próprias de um organismo biológico. A proposta de Clynes e Kline, então, seguia a primeira premissa.
Ainda que soassem como uma novidade, a decodificação do corpo humano e seu consequente aprimoramento sempre estiveram presentes na cultura e nas ambições humanas: das tentativas dos alquimistas em criar um homúnculo até os autômatos e, então, a cibernética e a robótica, com cientistas como Hiroshi Ishiguro que veem no robô a possibilidade de entender melhor o humano. E, como diria Vilém Flusser, o homem só é capaz de pensar o mundo a partir da perspectiva do homem, então nada mais previsível do que continuarmos humanizando vidas e objetos diferentes de nós para que estes se tornem inteligíveis – e vice-versa. O transumanismo, então, veio como uma vertente filosófica que explora essa moldabilidade do corpo humano de diferentes modos: extensão da vida e capacidades corpóreas e mentais, o surgimento de um pós-humano parte máquina e parte orgânico, o ser pós-gênero, o cérebro emulado na máquina e assim por diante.

Com a decodificação do DNA humano a partir do Human Genome Project, iniciado em 1986 e finalizado em 2003, ficou ainda mais evidente a ideia do "alfabeto do ser", um alfabeto passível de edições, como vimos com o surgimento de técnicas de edição genética como o CRISPR, TALEN, dedo de zinco, entre outras. O que era um questionamento nos anos 1990 com o filme "Gattaca" ou ainda em outras obras de ficção científica anteriores, como aponta o site Technovelgy ao mencionar o livro "Dragon's Island" (1951) de Jack Williamson, no qual é abordado o conceito de engenharia genética. Depois de vermos a notícia da clonagem da ovelha Dolly em 1996 e os porcos com pigmento fluorescente, passamos a assistir à proliferação de experimentos usando engenharia genética na agricultura e pecuária seja para fazer com que os animais se tornem mais resistentes a doenças ou mesmo para eliminar a necessidade de criar animais para torná-los comida, seja para evitar o uso de agrotóxicos no cultivo de plantas ou ainda aprimorar suas características (o gosto, inclusive).
Entretanto, quando chegamos nos testes em humanos ou animais mais próximos do ser humano, como os macacos, as questões éticas se tornam mais gritantes. E isso custou a carreira do cientista He Jiankui que resolveu dar esse primeiro e arriscado passo experimentando a edição genética em duas irmãs gêmeas – o que não significa que as iniciativas irão cessar. É aí que se revela a contemporaneidade de uma citação de Hegel que aprendi com o amigo e doutor em filosofia especializado em ética transumanista, Alexey Dodsworth:
Mesmo ao dizer algumas palavras sobre a doutrina de como deve ser o mundo, a filosofia sempre chega tarde demais. Enquanto pensamento do mundo, ela aparece pela primeira vez depois que a realidade completou o seu processo de formação e já está pronta e acabada… Quando a filosofia pinta em claro-escuro, então um aspecto da vida envelheceu e não se deixa rejuvenescer pelo claro-escuro, mas apenas reconhecer: a coruja de Minerva levanta voo ao cair do crepúsculo.
Ainda que as discussões em torno da ética e dos direitos genéticos tenham se iniciado muito antes de He Jiankui ter feito seu experimento no ano passado (um estudo ético já havia sido financiado junto ao Projeto do Genoma Humano em 86), foi só a partir disso que a questão se tornou urgente ao ponto de o governo chinês se preocupar com a verdadeira regulamentação uma vez que não se sabe ao certo as consequências desse tipo de manipulação genética – alguns acreditam que isso pode surtir um efeito potencializador na inteligência das gêmeas ou ainda fazê-las morrer precocemente. Mas, para além dos experimentos mais invasivos, como foi o dessas crianças, ainda há todo um ramo mais amplo de terapias genéticas que visam a diferentes fins: desde a cura de doenças como o câncer até a extensão da vida e o rejuvenescimento.
Em um extenso e bem fundamentado artigo publicado no Medium, Blake Richards defende, justamente, que a suposta metáfora do cérebro como um computador não é falaciosa. O autor também apresenta as críticas feitas a sua proposição, trazendo à tona apontamentos como o fato de que uma máquina de Turing simula o cérebro, mas não é igual ao cérebro, ou ainda que computadores sequer são capazes de exercer funções não-computáveis, entre outras. De qualquer modo, é notável como cada vez mais se estreitam as relações entre neurocientistas e engenheiros que estão buscando, por exemplo, modelos de inteligência artificial baseados nos estudos do cérebro humano. Se, outrora, von Neumann sugeriu que os estudiosos da cibernética abandonassem a referência do cérebro humano devido a sua complexidade, hoje ainda há pesquisadores insistindo nessa dupla jornada de decodificação do cérebro e no desenvolvimento de uma inteligência artificial generalista – isto é, a Singularidade conforme Ray Kurzweil.
No meio tempo, porém, passamos a ter a possibilidade de "abrir nosso código fonte" encomendando sequenciamento genéticos a US$ 100 com empresas como a My Heritage e 23 and Me. Essas empresas oferecem também aos seus clientes a possibilidade de encontrar seus parentes longínquos a partir da análise de seu DNA, como também insights médicos sobre longevidade, melhores tratamentos psiquiátricos ou mesmo dietas personalizadas. Por outro lado, novamente a coruja de Minerva levantou voo no crepúsculo dessa novidade, já que essas mesmas empresas estão vendendo os dados genéticos de seus clientes para a indústria farmacêutica ou mesmo para o governo canadense.
O que isso significa? Com o barateamento da tecnologia de sequenciamento genético, as possibilidades de exploração do material genético são infinitas. O problema reside quando levamos em conta que tudo é material genético – o fio de cabelo que deixamos cair no metrô, a bituca de cigarro que largamos no cinzeiro ou o copo de café que descartamos no lixo.

Projeto Stranger Visions, de Heather Dewey-Hagborg.
A artista americana Heather Dewey-Hagborg, por exemplo, extraiu o DNA de objetos recolhidos em espaços públicos para criar seu projeto "Stranger Visions" com a ajuda de um laboratório de biotecnologia, onde ela foi capaz de seguir todos os procedimentos para chegar ao resultado esperado: "De uma bituca de cigarro, pude aprender de onde possivelmente vêm os ancestrais de uma pessoa, seu gênero, cor dos olhos, cor dos cabelos, pele, sardas, sua tendência a ter sobrepeso e outras várias características do rosto ou mesmo sua aparência", descreveu ela em entrevista para a CNN. E assim ela imprimiu as máscaras das aparências aproximadas dessas pessoas, ao mesmo tempo em que despertou o debate sobre quão invasiva e assustadora era essa possibilidade então concretizada a partir de um projeto artístico.
Inspirados por essas e outras questões em torno da biotecnologia, a empresa brasileira Rito, especializada em entretenimento de impacto social, realizou no evento Hacktown de 2018 uma série de ativações que traziam à tona, justamente, as questões em torno da edição genética e, mais especialmente, da propriedade genética. Seguindo a premissa do design fiction, uma metodologia que propõe o uso da ficção científica para o debate sobre questões do porvir, a empresa criou uma startup fictícia que se utilizava da tecnologia do blockchain para registrar a propriedade do DNA de uma pessoa. Batizado de Instituto Nacional de Propriedade Genética, o projeto tinha como premissa, justamente, utilizar-se de um contexto contemporâneo para trabalhar um problema que ainda não está tão em pauta entre as pessoas: diferente de uma senha de cartão, que pode ser mudada a qualquer momento, o DNA não pode ser modificado pela segurança e privacidade do indivíduo. Tão real e importante era essa proposta que participantes do evento e funcionários de grandes empresas de tecnologia, como a IBM, chegaram até a perguntar aos atores que fingiram ser divulgadores do instituto como era possível investir naquela empresa.
Nesse sentido, ficamos cada vez mais esclarecidos quanto ao conceito do "eu quantificado". Ao mesmo tempo que esse termo diz respeito à maneira como nossa identidade se compartimenta e se multiplica em diferentes dispositivos e plataformas como as redes sociais (afinal, já parou para pensar que o seu Eu do Instagram provavelmente não é o mesmo do LinkedIn?), também há nessa expressão a faceta da quantificação do ser a partir de dispositivos vestíveis capazes de rastrear nossa performance e, então, reforçar a ideia do corpo como uma máquina, uma expressão matemática capaz de ser manipulada e, logo, também possível de ser hackeada com a popularização de implantáveis e protéticos inteligentes.
Assim, indústrias como a das seguradoras, por exemplo, passam a entender cada vez mais que a privacidade está se tornando uma commodity (e, portanto, um luxo). Profética, mas também extremamente consciente do nosso tempo, a citação de Joi em "Blade Runner" sumariza com primor a ideia de que nós nos tornamos dados e, assim como dados, também estamos ou precisaremos ser tratados, seja porque não existimos apenas no plano do físico, mas também no do virtual, ou porque nossa própria biologia se tornou código passível de ser explorado e manipulado.










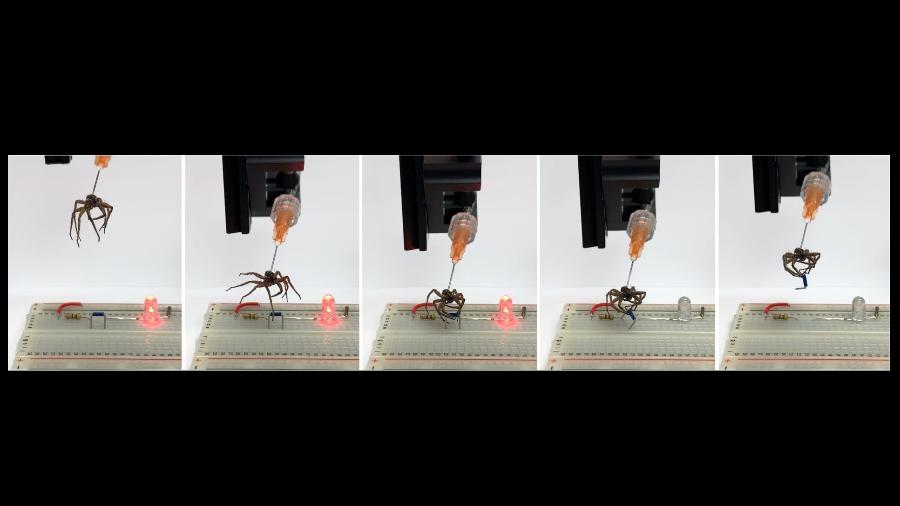

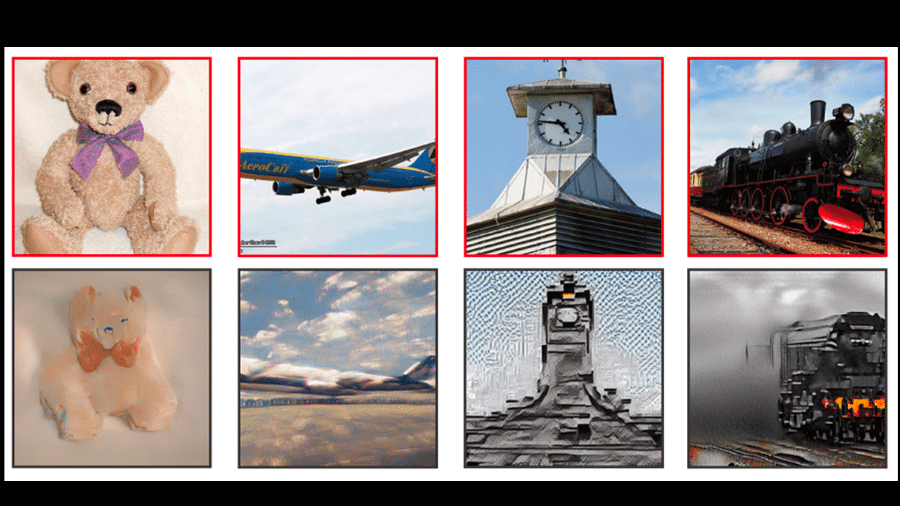


ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.