Você realmente quer viver para sempre?

Uma amiga fez há alguns dias um post no Facebook sobre uma mãe orca que, após 17 dias de luto, se separava do corpo do filhote morto. Enquanto estudante de psicologia, ela buscou, mais do que compartilhar o relato, abordar a questão sobre como lidamos com a morte ou com o próprio luto em nossas sociedades ocidentais. Sua posição foi a de criticar a maneira como negamos a morte ou não damos "tempo ao tempo" conforme organizamos enterros apressados, sem espaço para processar o fato e vivenciar o ritual. Por causa disso, temos uma experiência ainda mais difícil e, como consequência, não lidamos com a questão da morte: apenas a negamos.
Nem sempre foi assim, como lembrou um dos comentários do post: a sociedade vitoriana, por exemplo, usava a fotografia post-mortem como uma forma de prestar luto e lidar com a perda de um ente querido, congelando no tempo a imagem da pessoa e assim permitindo que o ocorrido fosse processado no ritmo de cada um. Do ponto de vista da psicanálise, Sigmund Freud trata em "Escritos sobre a guerra e a morte" (1915) exatamente sobre como nossos antepassados, diante da morte alheia, acabaram por compreender que eles próprios também eram mortais. E foi essa consciência, que alguns antropólogos e sociólogos defendem como talvez única entre os animais, que nos permitiu criar cultura, arte, filosofia, religião, política e moralidade, entre outros conceitos. Já que sabemos que somos mortais e que nossa vida tem um prazo de validade, então acabamos criando essas "muletas" simbólicas que justificam a vontade de viver diante do inevitável momento da morte — caso contrário, acabaríamos em um estado de niilismo completo ou até de paralisia.
Assim, sendo a morte simultaneamente a nossa maior certeza e um de nossos maiores mistérios, tentamos absorvê-la por meio de metáforas, crenças de que o melhor ainda está por vir ou ainda que esta se trata de uma vírgula em nossa jornada, não um ponto final, como acreditam os budistas e hindus, por exemplo. No entanto, ao mesmo tempo em que prolongamos nossa expectativa de vida com melhorias tecnológicas (do saneamento básico à penicilina, das vacinas até uma possível cura da aids), passamos também a tentar buscar uma forma de, na verdade, tornarmo-nos imortais. Isto é, se a expectativa de vida praticamente dobrou ao longo dos séculos, por que isso não se repetiria ou até mesmo se potencializaria nos próximos anos? Quando somos apresentados à ideia da exponencialidade da tecnologia (lei de Moore), não é difícil de pensarmos também na exponencialidade da nossa própria existência.

Para o gerontologista Aubrey De Grey, já há pessoas que podem viver até 150 anos hoje.
O que temos, então, são iniciativas tecnológicas que buscam não apenas estender a vida, como talvez tornar possível a erradicação da morte e do envelhecimento, que nada mais é do que o processo de entropia nos aproximando da desorganização da morte — o momento em que nos desorganizamos como indivíduos e nos dissolvemos com nosso entorno. Desde os anos 1970, nos Estados Unidos, temos exemplos de empresas como a Alcor Cryonics, que usam tecnologias de preservação criogênica na esperança de que, no futuro, tenhamos recursos suficientes para trazer de volta essas pessoas que tiveram ou seus corpos ou suas cabeças preservadas em grandes tanques metálicos.
Por outro lado, gerontologistas como Aubrey De Grey têm buscado por meio da biotecnologia uma forma de superar a entropia e, assim, atingir a chamada velocidade de escape, isto é, a possibilidade de criar tratamentos que não só revertam os danos causados pelo envelhecimento como, na realidade, sejam capazes de aprimorar nossos corpos para um estado ainda melhor do que o anterior, de modo que assim ganhamos essa velocidade de escape da morte e da degeneração de nossos corpos.
Também há, no entanto, um outro olhar que busca na inteligência artificial e na robótica uma forma de nos tornarmos imortais e nos livrarmos do curto prazo de validade e da falibilidade de nossos corpos biológicos. Nos anos 1990, autores como Hans Moravec trouxeram à tona a noção da mente acima do corpo, entendendo que nossos corpos são mais empecilhos que limitam as nossas capacidades do que realmente interfaces potentes. Afinal, já faz um bom tempo que o homem tem usado ferramentas e tecnologias como uma forma de estender suas capacidades, seja quando usamos a roda para nos deslocar ou então o celular como uma extensão do nosso cérebro. Então por que não optar por literalmente substituir partes do nosso corpo ou permitir que novos adendos tecnológicos façam parte do nosso organismo?
Do ciborguismo ao biohacking, temos o caso de implantes acessórios como imãs e chips de NFC até experimentos mais extremos e até mesmo perigosos. Por outro lado, é especialmente no caso das pessoas com necessidades físicas especiais que se cresce o uso e a aceitação de membros prostéticos e biônicos. Mas será que aceitamos mais esse tipo de intervenção porque se trata de uma "compensação" da deficiência ou por que estamos realmente mais abertos à intervenção de nossos corpos diante de novas tecnologias? Há um dilema ético e um limite tecnológico que ainda não nos forçou realmente a refletir, na prática, se estaríamos dispostos a substituir membros saudáveis por suas versões cibernéticas aprimoradas — por enquanto, esse tipo de debate permanece em um âmbito de nicho.
De todo modo, hoje nós já nos mostramos mais abertos a procedimentos como transplantes de órgão, implante de marca-passo ou mesmo uma cirurgia oftalmológica, mas talvez isso só se dê dessa forma porque se tratam de recursos terapêuticos, isto é, que visam à cura e ao prolongamento da vida do indivíduo que aqui se põe no papel de paciente. Se, por acaso, o indivíduo passa a "funcionar" ainda melhor do que antes, isso é um efeito colateral e não o objetivo do procedimento.
E é nesses casos, de doença ou de algum acidente, que geralmente temos um primeiro ou mais significativo contato com a realidade da morte, seja a alheia ou a nossa própria. Este foi o caso de Liz Parrish, uma bilionária do tratamento genético que entrou neste mercado fundando a startup BioViva após descobrir que seu filho tinha diabetes infantil e, portanto, corria risco de vida. Ao mesmo tempo em que iniciou uma luta pela cura das doenças infantis, o que Parrish descobriu foi que, acima de tudo, é a busca pela longevidade ou, em última instância a imortalidade, que também trará consigo o desafio de vencer as enfermidades que afetam as crianças.

Bina48, o busto robótico de Bina Rothblatt.
Do mesmo modo que Parrish, também Martine Rothblatt, já considerada a CEO mais bem paga dos Estados Unidos, migrou para a indústria farmacêutica ao descobrir que sua filha possuía uma doença sem cura. Mas mais do que isso, o desafio de Rothblatt hoje é lidar com a eventualidade da morte de sua esposa, Bina. Se artistas outrora imortalizaram suas musas e seus amores em poesia, escultura e quadros, Martine, no entanto, criou um busto robótico no qual uma inteligência artificial está constantemente aprendendo a emular Bina para que esta permaneça viva e presente mesmo após a morte de seu corpo humano. É a partir daí que são criados os mindfiles, programas de inteligência artificial que aprendem a emular uma pessoa e que são uma das premissas principais do movimento Terasem, também criado por Martine e sua família.
Descrevendo-se como uma transreligião, a Fundação Movimento Terasem (TMF) busca investigar a chamada Hipótese Terasem, que consiste em: 1 – um análogo consciente de uma pessoa pode ser criado ao combinar dados suficientemente detalhados sobre uma pessoa (um "mindfile") usando um software de consciência futuro ("mindware"); 2 – essa consciência análoga pode ser transferida em um corpo biológico ou nanotecnológico que proporcionará experiências de vida comparáveis àquelas vivenciadas por aqueles tipicamente nascidos como humanos. Isto é, a Terasem, assim como a 2045 Initiative, está em busca de uma forma de resolver o problema do corpo como um empecilho, como visto nos anos 90 com Moravec, então buscando na tecnologia uma forma de sublimá-lo e livrá-lo de seu prazo de validade.
Esse tema, aliás, foi um assunto especialmente caro à ficção científica dos anos 1980 e 1990. Por meio de gêneros como o cyberpunk, obras como "Neuromancer" (1984), "Ghost in the Shell" (1995) e "Matrix" (1999) fomentavam a discussão ao mesmo tempo em que a internet se tornava um produto comercial e o desejo de se viver em um ambiente simulado completamente imersivo passava a achar compatibilidade no imaginário cristão.
Antes mesmo de a série "Caprica" (2010) trazer os preceitos religiosos que fomentam o universo de "Battlestar Galactica", porém depois de Neal Stephenson lançar seu romance "Snow Crash" (1992), Margaret Wertheim publicou o livro "The Pearly Gates of Cyberspace" (1999). Nele, a autora traça um panorama histórico, tecnológico e artístico sobre a relação da nossa percepção de espaço e percepção do ser. Wertheim salienta justamente o fato de que as novas tecnologias cibernéticas, ou mais especificamente a internet e a formação do ciberespaço, tornaram-se a nova metáfora do céu cristão: em revistas como a "Wired", jornalistas chegavam a usar naquela época expressões como "no ciberespaço, seremos como anjos".
Então não é tão surpreendente assim encontrar grupos religiosos como a Christian Transhumanism Association e a Mormon Transhumanist Association, as quais estabeleceram uma conexão entre suas crenças com a narrativa do transhumanismo. Ao mesmo tempo em que o próprio movimento filosófico tem em seu cerne uma conexão religiosa, também no início do século passado o padre jesuíta Pierre Teilhard de Chardin já falava sobre uma "curva de evolução" muito parecida à ideia da Lei de Moore, e que por meio da noosfera (uma espécie de rede ou plano no qual todas as mentes se conectariam), seríamos capazes de chegar a uma super inteligência culminada naquilo que Teilhard chamava de Ponto Ômega, hoje mais conhecido como Singularidade devido às obras de autores como Ray Kurzweil ("Singularity is near") e Yuval Noah Harari ("Homo deus").
Nesse sentido, Micah Redding ganhou destaque como uma das principais vozes do Transhumanismo Cristão e, em um artigo publicado no site Motherboard, o desenvolvedor de software reúne diferentes depoimentos de fiéis, como é o caso de um estudante de um monastério católico que, aos 27 anos, declarou: "A tecnologia não vai resolver todos nossos problemas, nem irá avançar para sempre em um ritmo exponencial. Mas e daí? Implantes cocleares podem ajudar crianças surdas a escutar e [membros] cibernéticos podem ajudar homens amputados a andar. Isso é bom o suficiente para mim… esse é meu transhumanismo cristão." Já para o engenheiro Jonathan Gunnel, "cristãos estão em uma posição única para receber a extensão da vida. Nós já temos uma visão de qual tipo de mente você precisa. Sem isso, eu posso ver a Singularidade degenerando em uma guerra civil."
Mas se iniciamos essa reflexão levantando a possibilidade de que é justamente a nossa consciência de finitude que nos faz criar subterfúgios para dar sentido à vida (a religião e a moralidade sendo alguns deles), o que ocorre no depoimento de Gunnel é que, na realidade, esse transhumanista cristão acredita que, ao eliminarmos o fator "morte", não automaticamente eliminamos também a necessidade de nos apoiar nessas "muletas" simbólicas. Pelo contrário: é justamente o fato de serem cristãos e de viverem sob os ensinamentos de Deus que os tornam mais potentes de se viver uma vida infinita com propósito.
Contudo, ao resgatarmos a lembrança de que iremos morrer (memento mori), encontramos no carpe diem (aproveite o dia) o conselho de que devemos fazer o melhor proveito desse nosso tempo finito na Terra. O que nos ocorre, porém, é que hoje, em um mundo muito mais acelerado e povoado de gente e de informação, mais do que aproveitar o dia, temos o constante medo de estar perdendo algo (FOMO ou fear of missing out), de modo que é nesse sentido que o gerontologista Aubrey De Grey argumenta quando lhe é questionado se viver para sempre não seria algo tedioso: ainda há muito a ser vivido, conhecido e refletido. Ou seja, se tivermos mais tempo para viver, será que conseguiríamos sofrer menos pelo que se perde hoje, mas se pode fazer amanhã ou depois? Pouco provável, levando em conta nossa exposição a distúrbios mentais, como a ansiedade e a depressão — mas talvez até eles sejam eliminados da equação em um futuro de humanos imortais.

Na série Altered Carbon do Netflix, corpos são tratados como "capas" descartáveis: o que importa é a mente conservada em um dispositivo transplantável.
Todavia, pensadores como Francis Fukuyama alertam para o transhumanismo e para a obtenção da imortalidade como uma das ideias mais perigosas do nosso século. Isso porque, em primeiro lugar, o acesso a essas tecnologias e tratamentos serão reservados apenas à elite devido aos seus altos custos iniciais, o que significa o surgimento de um tipo de desigualdade ainda mais acirrada que a atual. Por outro lado, o que o filósofo também argumenta é que a conquista da vida eterna pode acabar por modificar ou talvez até extinguir o que o autor chama de "essência humana", uma vez que a nossa finitude (e a consciência dela) é um traço muito importante na definição e no desenvolvimento daquilo que somos: "Modificar qualquer uma desas nossas características principais inevitavelmente significa modificar um complexo e conectado pacote de características, e nós nunca seremos capazes de antecipar o resultado disso" — daí os questionamentos em torno dos bebês chineses que tiveram seus genes modificados.
O que resta, portanto, é um cenário atual no qual uma elite se dedica a esse tipo de empreitada ao mesmo tempo em que vemos o crescimento de movimentos anti-vacina e o ressurgimento de doenças outrora erradicadas. Isto é, enquanto os ricos estão pensando nessas soluções tecnológicas mais como um escapismo de uma suposta catástrofe eminente, por outro lado vemos que a expectativa de vida de um cidadão brasileiro médio, que é de 72 anos para homens e 79 para mulheres, não se estende para a comunidade LGBT, negros e moradores das favelas. É nesse ponto que Fukuyama reforça a ruptura perpétua pela busca da equidade, uma vez que a desigualdade não vai estar mais em quem vive mais ou menos, mas sim entre quem vive para sempre e quem não. De qualquer modo, do outro lado também há a argumentação de autores como o crítico Douglas Rushkoff, que diz que isoladamente as ideias de aprimoramento humano, exponencialidade e longevidade talvez não sejam tão danosas, o que acontece é que o cenário que temos hoje está marcado por "uma liga de bilionários da tecnologia que foram ensinados a acreditar que os seres humanos são o problema e a tecnologia é a solução."
Por fim, enquanto não chegamos a esse ponto de realmente conquistar a imortalidade, fica como dever de casa não apenas a reflexão e discussão acerca dessas possibilidades futuras (inclusive já exploradas por obras de ficção científica como a série Altered Carbon), mas também pensar na maneira como nós hoje entendemos a morte. Portanto, o questionamento que encerra esse texto retorna àquilo que o iniciou: será que, a priori, não é mais urgente mudar a maneira como entendemos e enfrentamos a morte em vez de tentar vencê-la através da tecnologia, o que, em outras palavras, não deixa de ser uma forma de continuar a negando?
É nesse sentido que movimentos focados na "boa morte", como é o caso da Order of the Good Death e do blog Morte Sem Tabu da "Folha de S. Paulo", buscam trazer um novo olhar ao qual não estamos acostumados em relação ao tema da morte. Aqui vale a leitura para que então revisitemos a questão da busca pela imortalidade dos transhumanistas a partir de uma outra perspectiva, na qual a morte é entendida de uma outra maneira que não a negação à qual estamos acostumados.










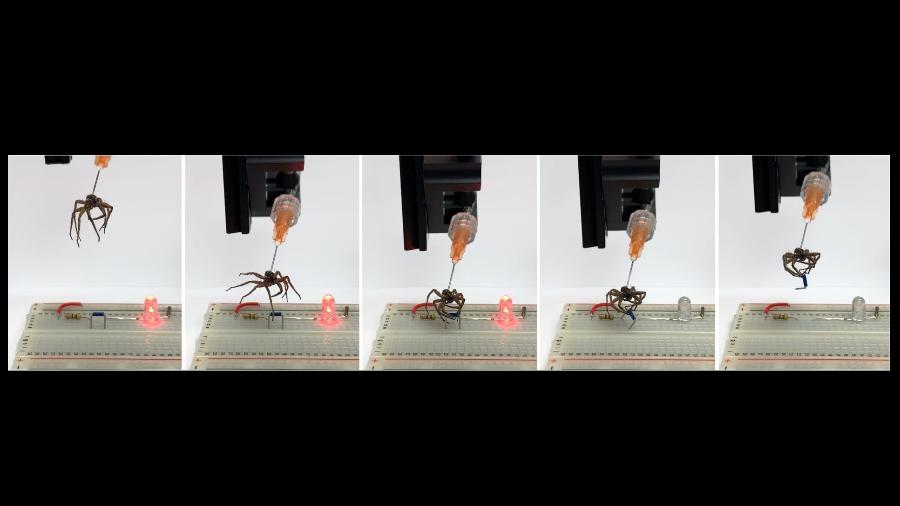

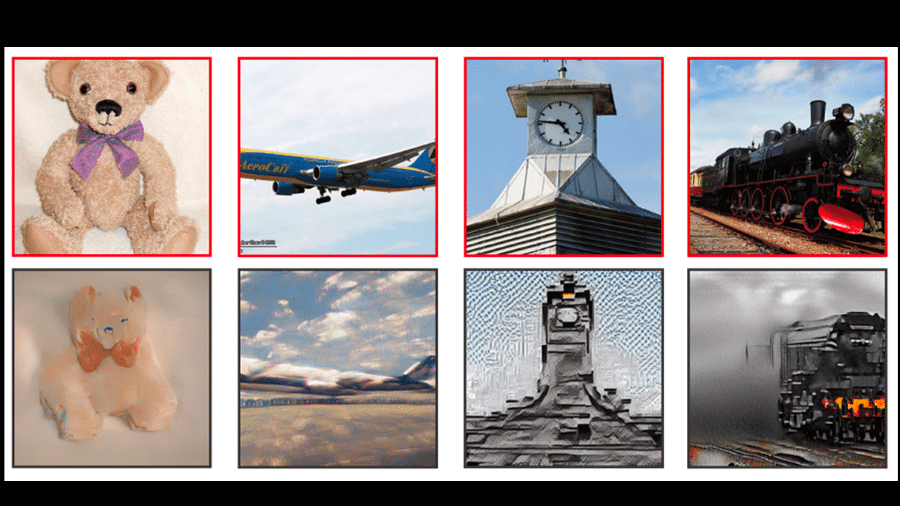


ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.