Vale do Silício, Vale do Silêncio: ressignificando tecnologia no Brasil

Wagner Moura em "Elysium", de Neill Blomkamp
Falar sobre complexo de vira-lata não é nada novo – aliás, esse termo se tornou especificamente destinado a descrever a condição brasileira na qual nos sentimos inferiores e degenerados em comparação ao resto do mundo. A expressão tem origem de uma ferida muito característica à identidade nacional: o futebol. Foi por causa da derrota da seleção brasileira contra o Uruguai na Copa do Mundo de 1950 que o escritor brasileiro Nelson Rodrigues se referiu a esse choque como "complexo de vira-lata". Em suas palavras: "Por 'complexo de vira-lata' entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade: não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima."
Compartilhamos com os vizinhos sul-americanos uma história de colonização, porém cada nação teve seu impacto específico e seus desdobramentos particulares. Recentes lançamentos literários, como "Las Constelaciones Oscuras", de Pola Oixarac, e "The Old Drift", de Namwali Serpell, exploram justamente o impacto da colonização em seus países de origem, Argentina e Zâmbia, respectivamente, sendo que ambos os romances abordam o colonialismo como "uma invasão de privacidade imensa, e a tecnologia está indo a caminho de rivalizar isso". No caso de Oixarac, os países latino-americanos estão interessados em criar um Projeto de Unificação de Dados Genéticos Latino-Americanos como forma de vigiar seus cidadão; na ficção de Serpell, porém, os zambianos são vigiados pelo governo e usados como parte de um experimento médico sem seu consentimento.
É nesse sentido que esses olhares específicos e focados no contexto de origem de cada autor estão fazendo com que gêneros como o afrofuturismo se tornem populares como uma inspiração que transborda a literatura e chega aos cinemas, aos discos, à moda e tantas outras manifestações políticas e culturais que propõem um novo olhar sobre o futuro não mais colonizado. Afinal, muitas vezes somos tentados a imaginar um único futuro tingido pelas cores da cultura pop produzida em países europeus ou pelos Estados Unidos, bem como acreditamos que só aquilo que se dá no Vale do Silício é que tem chancela para ser considerado inovação – por aqui, isso tá mais para gambiarra.
Monique Evelle é uma das pessoas que está tentando reverter essa lógica semântica sobre o que é inovação e o que é gambiarra. No ano passado, Monique trouxe em pauta "O potencial inovador das periferias" em sua participação no TEDxMauá. Foi lá que a empresária e ativista do movimento negro fez a provocação sobre como nos deixamos seduzir pela imagem do homem branco estrangeiro, seja ele Elon Musk ou Mark Zuckerberg, como figuras de sucesso e inovação: nós temos o hábito terrível de celebrar apenas os lançamentos do Vale do Silício e ignorar o que Monique chama de Vale do Silêncio, isto é, as zonas periféricas. Isso, no entanto, não significa que as periferias estão silenciosas e que não há inovação por ali: na verdade, essas pessoas e projetos são silenciados, apagados quando o assunto é tecnologia. "Todas as narrativas da história da humanidade foram criadas e legitimadas por um único padrão racial, de gênero e social. No passado foi assim e no presente continua. Apesar das diversas discussões sobre diversidade, em muitas áreas da sociedade, a diversidade é quase uma fábula", ela argumenta.
Cofundador do Coletivo COLETORES, Toni William é um exemplo de quem está pondo em prática a inovação e tecnologia em regiões periféricas da capital paulista. Seu objetivo é levar arte, inovação e cultura a essas comunidades. "Entendemos a arte, o território e a tecnologia como uma tríade que sincroniza alguns dos aspectos mais importantes para a efetivação da cidade como um lugar de integração, inclusão e sensibilização", explica o artista que, no ano passado, fez parte de um projeto de instalação de videomapping durante a FLIP. Apesar de terem atuação em todos os setores da sociedade, é na periferia que o grupo busca reduzir os danos: "Com uma estrutura precarizada, não há muito o que se fazer. Pensar um lugar em que a internet banda larga mais veloz é de 2MB por segundo nos faz refletir o quanto existe um apartheid tecnológico que exclui grande parte da população do acesso a bens e serviços básicos."
O Coletivo COLETORES, portanto, é responsável por promover pequenos diálogos que geram aprendizados em uma via de mão dupla: "Nós levamos conhecimentos de algumas linguagens e estéticas digitais, enquanto recebemos atualizações de diferentes contextos em que a juventude vive atualmente. Assim, criamos ao mesmo tempo laços de afetividade, cooperação e sensibilização, pois essa é a maior demanda na comunidade." Para isso, um dos projetos criados pelo grupo foi o media lab São Mateus Em Movimento na comunidade Vila Flávia, situada no bairro de São Mateus, periferia de São Paulo.
Curta de Criolo mostra possibilidades de tecnologia e futuro a partir de um olhar da periferia brasileira.
Patrocinada pelo Edital Redes e Ruas em 2015, a iniciativa consiste em um espaço para discussão e produção de tecnologia voltada para diferentes públicos e contextos. Lá se reúnem coletivos, ativistas, pesquisadores e artistas que pensam a tecnologia em diálogo com a realidade da comunidade. É nesse sentido que Monique também defende que o futurismo, isto é, a disciplina e os profissionais que pesquisam e ajudam organizações a construírem um futuro mais positivo e alicerçado por soluções tecnológicas e inovadoras, acaba por se concentrar mais na questão do futuro do trabalho: "Se não houver equilíbrio nas relações, diversidade de olhares, estaremos criando expectativas de um processo de inclusão que pode não chegar para todo mundo." Por isso, não apenas os futuros a serem pensados devem ser diversos como as pessoas que estão trabalhando com futurismo precisam ser diversas – só assim é possível de se ter um olhar mais complexo e integrado com diferentes visões de mundo.
Novas consultorias como a Iden, Think Eva e 65/10, bem como novos movimentos como o Afrofuturo e MOOC ou ainda as empresas de comunicação UP Lab e SHARP, da qual Monique é sócia, são exemplos de iniciativas que têm ajudado empresas e marcas a tornarem seu posicionamento mais consciente e integrado, seja em ações voltadas para o presente ou orientadas ao futuro. Para Monique, isso é de extrema importância e, no caso do movimento negro, a empresária não deixa de citar a ativista política Angela Davis ao afirmar que "quando as mulheres negras se movimentam, o mundo todo se movimenta junto, logo, ninguém perde, só ganha." É com esse mote que Monique lidera outros projetos como o Desabafo Social e RADAR, com os quais ela reforça o afroempreendedorismo levando conhecimento e oportunidades de trabalho a esse demográfico.
Para Toni, o caso do afrofuturismo é emblemático ao ser mais do que um gênero artístico para se desdobrar em algo maior, como uma ação sócio-cultural que se manifesta a partir de diferentes linguagens. O termo, originalmente cunhado por Mark Dery em 1994, na realidade, só deu nome a um movimento que já vinha acontecendo há muito tempo. "Eu, particularmente, entendo que toda a África em sua história possui traços afrofuturistas refundados como, por exemplo, a cidade de Timbuktu e todo seu conhecimento matemático e astronômico que foi produzido, exportado, saqueado e refundado", complementa o artista. O problema é que não chegamos a ter acesso a esse tipo de conhecimento ou à ressignificação de conhecimentos ancestrais, como hoje tem se buscado a partir de novas vertentes do futurismo, como é o tecnoxamanismo.
De modo a mudar esse cenário, Monique traz como provocação a expressão Vale do Silêncio justamente por essas borbulhas de ideias e inovações estarem sendo silenciadas e anuladas pelo discurso vigente. "Tenho dialogado muito sobre isso para ver se conseguimos enxergar o Vale do Silêncio a partir da ótica da potência e abundância, não só da escassez. Fazer as pessoas enxergarem que gambiarra é uma tecnologia criada e desenvolvida na periferia e é tão inovação quanto se pode ser em qualquer outro território", ela argumenta. "É preciso entender que o Vale do Silício não é e não pode ser o único lugar inovador do mundo, até porque o contexto é outro e a linguagem não chega para a maioria."
Com o Coletivo COLETORES, Toni usa a arte, educação, ação de território, democratização e conscientização dos usos e dos meios tecnológicos como uma forma de amplificar essas ideias e transformar o discurso de algo elitista para uma mensagem democratizada e inclusiva. "Não precisa de muito. Pode parecer clichê, mas é através das relações que se cria transformações internas. Essas transformações têm potencial para gerar redes e é dessas redes que provocamos transformações sociais de curto, médio e longo prazo", ele explica.
É desse modo que tanto Monique quanto Toni, além de tantos outros empreendedores e iniciativas de empreendedorismo, ativistas e artistas periféricos, estão lutando para transformar o futurismo e o acesso à tecnologia e suas potencialidades de construção de futuro algo que não é reservado a apenas uma elite que, aliás, peca ao pensar apenas no futuro sem olhar para o retrovisor da história. Movimentos como a Torus, liderada pelo comunicador Gustavo Nogueira, são exemplos de vozes que questionam essa linguagem e abordagem atual do futurismo que ignora o passado e o presente para pensar um futuro descolado do contexto geral e inserido apenas em uma bolha específica. "Quando você nasce numa sociedade que anula sua existência, você acaba sendo a própria causa. No meu caso, utilizo a comunicação e novas tecnologias para pensar e construir esse possível futuro que seja realmente para todos", reforça Monique.

Cena do filme "Branco sai, preto fica", de Adirley Queirós
Na arte, podemos ver como a ficção científica brasileira está tentando contornar seus empecilhos mercadológicos e mesmo culturais, nos quais nos deparamos com uma versão específica do complexo de vira-lata, isto é, a chamada Síndrome de Capitão Barbosa. A expressão tem origem dos anos 1980, quando o escritor de ficção científica Bráulio Tavares a usou para se referir à aversão do público brasileiro ao "brasilianismo" na ficção científica e na fantasia. Para Tavares, um autor brasileiro poderia construir um universo riquíssimo dentro do contexto da ficção científica, porém tudo isso iria por água abaixo quando descobríssemos que o protagonista se chama Capitão Barbosa e não John Smith, por exemplo. Em um artigo publicado no Jornal NH, Gilson Luis da Cunha explica com detalhes esse problema específico da ficção científica, mas que se desdobra na nossa própria visão sobre tecnologia – daí a possibilidade de estender a síndrome do Capitão Barbosa também para a maneira como lidamos com a inovação brasileira.
Como explica Cunha, talvez o motivo pelo qual o público brasileiro não se dê muito bem com os gêneros da ficção científica quando produzidos em solo nacional tenha a ver com uma falta de costume ou familiaridade. No entanto, a verdade é que ao mesmo tempo que autores consagrados, como Machado de Assis ou Guimarães Rosa, traziam elementos fantásticos em suas histórias, o problema aparece quando essa fantasia também se entremeia ao elemento "ciência": "Boa parte do público acaba condicionada pelo fato de que praticamente toda a ficção fantástica que chega até nós tem origem anglófona, o que é uma tremenda bobagem. Não é necessário ser engenheiro para curtir Perdido em Marte, de Andy Weir, do mesmo modo que não é preciso ser linguista para apreciar História de sua vida, o conto de Ted Chiang que deu origem ao filme A Chegada."
Cunha prossegue defendendo que a ciência não é americana, russa ou alemã, e o mesmo vale para a tecnologia. "Orson Scott Card, autor do consagrado O Jogo do Exterminador, viveu no Brasil e incorporou personagens de origem brasileira em O Orador dos Mortos, que continua a história de seu livro mais famoso. Em uma entrevista à antiga revista Isaac Asimov, Card disse que frequentemente lembrava ao público americano que o futuro não será povoado só 'por nativos do Kansas'. No fim das contas, talvez o preconceito seja só nosso", provoca o jornalista.
Do mesmo modo que o afrofuturismo está incentivando o resgate das raízes africanas, também outros subgêneros da ficção científica estão surgindo como uma forma de ressignificar a nossa relação com a ficção científica, tecnologia e identidade nacional. Na realidade, isso não é novo, afinal, já na chamada Primeira Onda da ficção científica brasileira havia um embate entre autores mais nacionalistas e outros mais internacionalistas que seguiam uma emulação dos romances space opera americanos. Bráulio Tavares, por sua vez, defendia não apenas uma maior valorização da cultura brasileira como também um aspecto mais poético para a ficção científica nacional. Já Roberto de Sousa Causo foi quem criou e fortaleceu o subgênero tupinipunk como uma releitura do cyberpunk a partir da cultura nacional. Mais recentemente, temos ainda o exemplo dos subgêneros Cyberagreste e Amazonpunk como propostas que se popularizaram com as ilustrações de Vitor Wiedergrün, mas que também apareceram como inspiração para dois contos publicados na coletânea "2084: Mundos Cyberpunks", da Editora Lendari.
Porém, como diversidade é um problema complexo, historicamente a ficção científica é um gênero que, no Brasil, foi muito mais povoado por autores homens e brancos do que mulheres, LGBT e negros, mas também isto está mudando com iniciativas como o Manifesto Irradiativo, além de romances e contos especificamente voltados para esses públicos. Cada vez mais autores têm trabalhado tanto seu discurso quanto sua obra como maneiras de representar narrativas mais diversas em um nível além da nacionalidade, como é o caso de Alliah e Jim Anotsu, que assinam o manifesto. Com a popularização de obras como "O Conto da Aia" e "Pantera Negra", a ficção científica ganhou um novo fôlego para tratar de problemas da diversidade que dizem respeitos às mulheres e aos negros, por exemplo.
Por ora, pequenas editoras têm buscado se unir para tornar a produção nacional mais forte e potente através de iniciativas como a Coesão Independente ou ainda projetos de financiamento coletivo que não só inauguraram um espaço de discussão de literatura fantástica no ano passado, durante a FLIP, como também ajudam na publicação e recompensação dos autores e artistas envolvidos em projetos que não só estão aumentando a produção de ficção científica nacional, como também têm ajudado a descolonizar o gênero no Brasil e, assim, unir-se no coro dos vales que podem ter sido silenciados, mas que nunca foram silenciosos – afinal, ciência, tecnologia, inovação e ficção científica também são coisa de brasileiro.










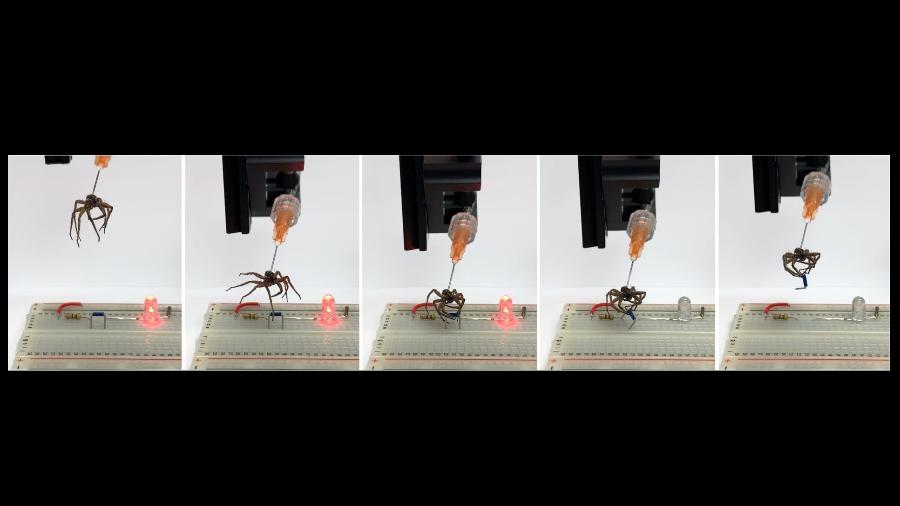

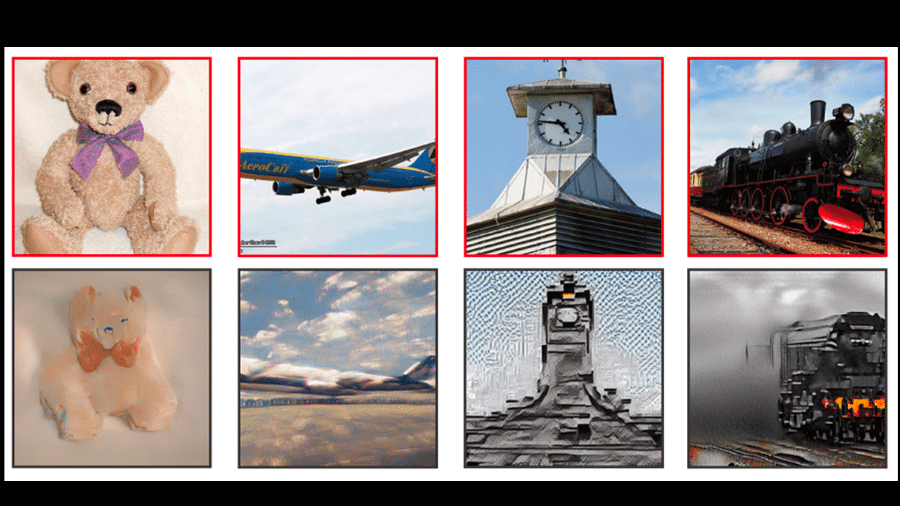


ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.